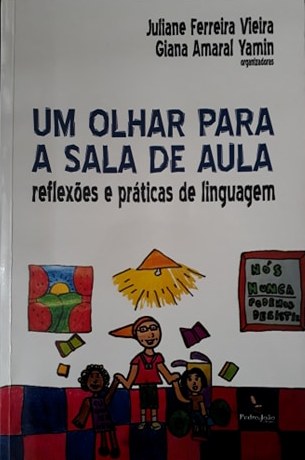Amo-te assim,
desconhecida e obscura.
Olavo Bilac
(Poema “Língua
portuguesa”)
Saltando
bastante no tempo do post anterior para esse, exploraremos nessa parte o campo da história da
alfabetização no nosso país, para tentar entender melhor como é que, talvez, isso
de um abecê diferente do dito oficial chegou por aqui... no Brasil, no
Nordeste... na Bahia... e buscar, nessa história, outros argumentos para a
discussão em foco. Digo “tentar”, pois essa é uma história de muitas lacunas...
Embora os
oito nomes de letras no Nordeste tenham sido – e, ao menos na Bahia, sejam ainda
– usadas também para se referir às letras em situações sociais diversas em que
é preciso nomeá-las, é fato que no ensino primário é que essa nomeação se constitui
e se firma...ou se perde... Por isso, além de meu interesse ser, em última
instância, o ensino da língua escrita, ir ao campo da história da alfabetização
é fundamental para colhermos mais elementos para a nossa discussão mais ampla
sobre essa temática.
Como nos
lembram Frade (2005) e Mortatti (2000), inicialmente, no Brasil, o ensino das
primeiras letras se dava pelo método sintético da soletração, ou método
alfabético, um dos mais antigos. Esse foi o método empregado desde a
antiguidade, chegando até nós via Portugal, e usado aqui nos períodos colonial
e imperial, até o momento em que a escolarização, e a alfabetização em
particular, passaram a constituir em preocupação na formação do país, no final
do século XIX e início do século XX. Apesar de questionado desde essa época, e
hoje proscrito das práticas alfabetizadoras, trazê-lo vale aqui como ponto de
partida para nossas reflexões sobre o alfabeto nordestino, já que esse método
investe, justamente, no nome das letras como unidade inicial da alfabetização,
e porque foi, como veremos, a porta de entrada para uma nomeação diversa das
letras do alfabeto. No método da soletração, uma vez aprendidos os nomes e
formas gráficas das letras do alfabeto e de saber reconhecê-las fora da ordem,
passava-se a soletrar pelo nome das letras (bê-a-ba, bê-e-be, be-i-bi...),
formando sílabas, para, então, formar palavras (bê-o-bota-a-ta = bo-ta).
Ou seja, para ler, ao visualizar as palavras, era preciso dizer os nomes das
letras e soletrar, traduzindo em sons aquela palavra visualizada.
Frade
(2005) pondera que o método trazia a vantagem de o nome das letras (com algumas
exceções) remeterem a pelo menos um dos fonemas que elas representam na escrita
– conquista do princípio acrofônico, quando as letras latinas foram nomeadas,
como vimos no post anterior 2. Por outro lado, nem sempre a remissão dos nomes
das letras a esses fonemas é muito direta. E é aí que entram os dois tipos de
soletração que estiveram presentes no ensino das primeiras letras, ao menos no
Brasil imperial.
Diante da
palavra BANANA, por exemplo, o aluno soletrava: bê-a-ba, ene-a-na,
ene-a-na = banana. Esse modo de soletrar refere-se, conforme indica
Mortatti (200) e também Frade (2014), à soletração antiga, praticada no
Brasil até final do século XIX. Ouve-se aí mais sons na palavra ene do
que o fonema que a letra N representa e, desse modo, como discute Frade (2014),
o aluno precisava abstrair o excesso de sons da soletração para encontrar a
sílaba, NA: ene-a = na, e depois encontrar a palavra (quando era o
caso). Esse argumento tem relação com o que foi discutido anteriormente sobre o
princípio acrofônico ser mais direto no caso dessa letra ser pronunciada nê.
A forma nê-a-na parece bem menos penosa. É um modo mais direto de
soletrar, devido ao fato de que o nome nê se remete mais simétrica e
diretamente ao fonema /n/ do que o nome ene, em suas combinações com as
vogais.
Frade
(2005) afirma, inclusive, que talvez tenha sido, por isso mesmo, que se tenha
criado outro modo de pronunciar os nomes das letras, criando-se um outro
abecedário, como o usado no Nordeste. Os nomes de algumas letras, nesse abecê,
ajudam, justamente, a “retirar o excesso de sons na palavra”, a “eliminar
algumas sobras de sons, na hora da junção das letras” – a soletração podia,
assim, acontecer com um pouco menos de sacrifício. (FRADE, 2005, p. 24).
Tanto
Frade (2014), quanto Mortatti (2000), abordam que essa forma de soletração,
considerada como a antiga soletração, foi referida assim por muitos
autores portugueses e brasileiros no final do século XIX. Entretanto, parece
que já a partir do século XVI ou XVII, surgiram na Europa manifestações contra
o método da soletração. Dentre essas manifestações, uma é importante para nossa
discussão específica. Frade (2014) ressalta que no método de soletração
moderna – criado por gramáticos franceses, também chamados de
gramáticos de Port-Royal (século XVII) – “atribui-se às consoantes um ‘nome’
que visa a aproximar os nomes das letras a seus valores sonoros no
contexto de uma palavra” (FRADE, 2014, s.p).

As
primeiras ideias desse procedimento são atribuídas a Blaise Pascal, ainda no
século XVII. Pascal reinventou, na França, o método da soletração, sugerindo
que se ensinasse não o nome das letras (efe, eme, ene, ele, esse...),
mas os seus sons ou algo mais próximo a ele, com o uso da vogal de apoio (como fê,
lê, mê), o que facilitaria a soletração. A soletração moderna faria, assim,
uma substituição dos nomes que então se dava às letras pelo que se chamava seus
“valores”, que não era propriamente os fones – os sons das consoantes –, mas
uma emissão silábica, estabelecida pela junção da consoante com a vogal de
apoio. É importante ressaltar aqui que, ainda que a soletração moderna seja associada ao método fônico tradicional (FRADE, 2012), há referências ao
uso de vogal de apoio, ainda que átona (com –e
mudo) e não à pronúncia dos fones isolados, tal qual entendemos os
procedimentos dos métodos fônicos hoje, com a tentativa, vã, de pronunciar
apenas o fone consonantal, artificializando a língua. Ao nomear as letras do
alfabeto mais próximas da emissão sonora, o que se destaca é o som de uma
sílaba – que vem a constituir, em sua forma tônica, o nome da letra – e não um
fonema: fê e não /f/, mê e não /m/. Note-se também, que esses autores,
de tempos remotos, citam a nomeação diversa das letras, e não apenas um modo de
pronunciá-las – aspecto importante para o nosso argumento.
O –e mudo, no entanto, foi se tornando
tônico. De qualquer modo, vejam a diferença entre eme-o-mo, ele-a-la =
mola e mê-o-mo, lê-a-lá = mola. Percebem? Ou seja, exatamente como se
fazia a soletração no Nordeste. Veio da França, gente! E influenciou muitas
gramáticas portuguesas que, por sua vez, chegaram a nós. Isso significa que
esse procedimento tampouco é originalidade do Nordeste – ou seja, talvez nem
inventividade de uma linguagem criada e ali praticada, nem “aberração”
nordestina. Se, em algum momento da história, parte do povo brasileiro
simplificou os nomes das letras formados pelo princípio acrofônico mais
indireto, e talvez por analogia a outras letras do alfabeto – como o bê, tê, vê, zê... – isso se deu com o
respaldo de todo esse contexto de discussão. Assim, diante de tudo o que
estamos discutindo, podemos dizer que é uma forma, ao mesmo tempo, singular e
comum de atribuir os nomes às letras. E trata-se de nomes, não de sons, muito
menos de fonemas. Ainda que esses nomes possam ter, historicamente, se
originado da tentativa de pronunciar os sons, o procedimento é legítimo e
forma, como formou no passado do alfabeto, os nomes das letras.
Publicada
em 1803, em Lisboa, a Grammatica Philosóphica da Lingua Portugueza, do
português Jerônimo Soares Barbosa, inspirada na perspectiva de Port-Royal e
serviu como modelo para a produção gramatical portuguesa e brasileira do século
XIX – traz, na fonte, essa questão da pronúncia das letras.
Cagliari
(1985) ressalta que a recomendação de Jerônimo Soares Barbosa era de que nos
livros com as primeiras instruções sobre a escrita, especialmente destinados ao
povo, o alfabeto fosse ensinado não com os nomes das letras, mas com seus sons
básicos, as consoantes tendo vogais de apoio, e grafadas pelas letras mais
representativas. Ou seja, a ideia da facilitação do ensino inicial da escrita
não foi invenção dos nordestinos, como já ouvi por aí dizerem em tom jocoso. Muitos
eram os artifícios usados para facilitar a aquisição da leitura, e as propostas
francesas e portuguesas que chegaram no Brasil também visavam a essa
facilitação.
Tudo isso
nos mostra que a questão do nome das letras tem um lugar na história da
alfabetização no Brasil, de muito mais destaque do que temos visto – e que
merece atenção quando nos vemos aceitar, sem discussão, a “colonização” do
alfabeto oficialmente usado no Nordeste pelo oficial, associado à norma culta
da língua, ou quando o defendemos como uma criatividade quase ingênua do
nordestino. Como constatamos, no entanto, não se trata de uma invenção simplória
e iletrada do nordestino, fonte de deboche pelos que nada sabem dessa história
e aceitam o alfabeto convencional como verdade única e última, a-histórica,
naturalizando o seu uso. Essa história é a história do nosso Brasil! E mais
além, como vimos com as perspectivas francesa e portuguesa que influenciaram o
ensino no Brasil.
Após os
questionamentos dos métodos de soletração, muitos outros autores também
defenderam o uso da pronúncia e dos nomes das letras mais próximos a seus
“sons”, o próprio João de Deus e Abílio César Borges.

João de
Deus, autor português cujo método foi amplamente usado no Brasil a partir de
1880, criticou ambas as soletrações, antiga e moderna, pois o que deve ser
enfatizado é, segundo ele, a leitura – e daí sua opção pela palavração. O
método João de Deus – fônico e de palavração – propunha ensinar, claramente,
como se formam os nomes das consoantes: o nome da letra se forma juntando o som
-ê ao som da letra na leitura/pronúncia das palavras. Ou seja, ao som da
letra que se lê /vvv/ (e o método ensinava a pronunciar os fonemas pelo ponto
de articulação), as crianças aprendiam que, juntando-se o som -ê,
formava-se o nome da letra, vê. A que se lê /fff/, se chama fê, e
assim por diante. O /jjj/ é jê, nesse sistema, e não ji ou jota.
E o G... o G chama-se guê, quando oclusiva (gato, gota, gude), e lê-se jêgue,
quando fricativa (gelo, girafa). Esquisito, né? Bem esquisito! O sistema de
João de Deus é bem diferente, uma tentativa de os nomes das letras – mas apenas
no momento da alfabetização – dizerem sobre seus diferentes valores sonoros,
quando é o caso. Mas letras são “nomeadas” assim, apenas momentaneamente, enquanto
a leitura é na Cartilha. É
diferentes de um uso de nomes de letras nas práticas cotidianas, como é o caso
do uso que ainda se faz hoje na Bahia.
 Abílio
César Borges, o Barão de Macaúbas, é uma referência que pode ter igualmente contribuído
com o uso dos nomes das letras tal qual se usa no Nordeste, dessa vez a
contribuição de um brasileiro, baiano, influenciado por essas questões que
estavam no “ar do tempo”. Ele criou, na Bahia (1858-1870), o Ginásio Baiano,
que, segundo Souza (2012), pode ser considerado, nos padrões do século, uma
escola de excelência. Apesar de ser baiano, mas talvez tendo isso um peso, sua
Gramática e seu Primeiro livro de leitura, publicados em 1866, foram, segundo
Souza (2012), distribuídos, divulgados e adotados em escolas públicas e
particulares em várias regiões do Brasil, não apenas na Bahia, não apenas no
Nordeste, na segunda metade do século XIX. A autora, no entanto, enfatiza sua
utilização ampla na província da Bahia. Dentre as características do método
proposto nos livros de leitura de Borges, a autora ressalta que esse método –
que apresenta as letras uma a uma e organiza as lições a partir das sílabas –
enfatizava a pronúncia das consoantes, das sílabas, pois Borges defendia que a
articulação perfeita dos sons levaria a uma boa leitura. No seu “Novo primeiro
livro de leitura”, de 1888, Borges assim se posiciona, como ressalta Souza (2012, p. 657):
Abílio
César Borges, o Barão de Macaúbas, é uma referência que pode ter igualmente contribuído
com o uso dos nomes das letras tal qual se usa no Nordeste, dessa vez a
contribuição de um brasileiro, baiano, influenciado por essas questões que
estavam no “ar do tempo”. Ele criou, na Bahia (1858-1870), o Ginásio Baiano,
que, segundo Souza (2012), pode ser considerado, nos padrões do século, uma
escola de excelência. Apesar de ser baiano, mas talvez tendo isso um peso, sua
Gramática e seu Primeiro livro de leitura, publicados em 1866, foram, segundo
Souza (2012), distribuídos, divulgados e adotados em escolas públicas e
particulares em várias regiões do Brasil, não apenas na Bahia, não apenas no
Nordeste, na segunda metade do século XIX. A autora, no entanto, enfatiza sua
utilização ampla na província da Bahia. Dentre as características do método
proposto nos livros de leitura de Borges, a autora ressalta que esse método –
que apresenta as letras uma a uma e organiza as lições a partir das sílabas –
enfatizava a pronúncia das consoantes, das sílabas, pois Borges defendia que a
articulação perfeita dos sons levaria a uma boa leitura. No seu “Novo primeiro
livro de leitura”, de 1888, Borges assim se posiciona, como ressalta Souza (2012, p. 657):
As letras
são apresentadas ao professor, explicando-lhe como devem ser pronunciadas,
como, por exemplo: f deve ser pronunciado não éfe, mas fê. O Autor demonstra a
ineficiência em se trabalhar com o nome da letra, principalmente na soletração,
o que muitos professores fazem, dificultando a aprendizagem das crianças.
O método de Abílio, e sua proposta de pronúncia das
letras, então, será que seguiu ressoando por aqui? Pode ser, embora a autora
ressalte que quem mais aproveitou dos livros de Borges foi a elite. Por outro
lado, ele foi, segundo Frade (2011), um dos mais usados nas escolas
brasileiras, antes das inovações do final do século XIX. Então, por que só ter
influenciado a pronúncia do abecê no Nordeste? Seria esse, então, um uso
anterior, bem anterior ao final do século XIX? Será improvável que sua
proposta, por algum motivo, tivesse ressoado mais na Bahia? Se é, que outros
fatores influenciaram o uso do abecê no Nordeste?
Como esses, muitos outros autores de
gramáticas e cartilhas circularam no Brasil – e não apenas no Nordeste – com propostas
que sugeriam uma pronunciação diversa das letras na alfabetização inicial, bem
como a nomeação das letras de formas diferentes do alfabeto sistematizada, provavelmente, por
Varrão, lá na Antiguidade. E no Nordeste ficou valendo como nome das letras.
Assim, indo à história da alfabetização, concluímos
que esse tipo de procedimento de designar as letras de forma mais próxima a
seus sons, que já havia sido usado no latim é, de algum modo,
retomado nesse momento do final do século XIX, ou mesmo antes, e início do XX,
a partir da França e de Portugal. Vimos que esse procedimento circulou no
Brasil, a partir do desconforto com a soletração, tendo alguma legitimidade na
história dos métodos de alfabetização. E esse não foi um processo exclusivo do
Nordeste. Então, eis mais um grupo de questionamentos que se juntam ao de se
seria, então, o uso dos nomes das letras nordestinas advinda mesmo dessa
soletração moderna, inspirada nos franceses. Por que “pegou” no Nordeste, ou no
sertão nordestino? Por que aqui se manteve essa prática? E por que esse jeito
de pronunciar, na soletração, virou o próprio modo de nomear as letras? Será
devido ao grande contingente de pessoas não escolarizadas nessa região, naquela
época – que, então, tiveram menos contato com o alfabeto oficial? Mas se for
isso, como tiveram contato com essa “novidade” da soletração moderna? O momento
histórico explica essa situação? Ou o modo de soletrar da soletração dita
“moderna” foi um jeitinho que o Nordeste deu, mesmo antes de ser legitimado
pelas propostas francesas e portuguesas que aqui aportaram, nomeando por conta
própria, por analogia às outras letras oficias (bê, tê, vê, zê...), as letras que pareciam muito distantes dos
“sons” pronunciados? Souza (2012) nos conta que os livros de Abílio César
Borges, por exemplo, mesmo distribuídos amplamente no Brasil, foi usufruído, de
fato, pela elite. Então, será que essas “novidades” chegaram mesmo aos
municípios longe dos centros urbanos para influenciar o modo de pronunciar as
letras do povo do sertão?
Haverá, ainda, quem diga até que esse modo de
soletrar perdurou
no Nordeste como forma de nomear as próprias letras, pois o nordestino gostou
da facilitação “preguiçosa” trazida com ela, com o deboche preconceituoso e o
estigma que muito frequentemente é atribuído ao nordestino. Ora, os
preconceituosos arrumam argumentos diante de qualquer situação... Podemos nos
perguntar ainda se houve uma só fonte desse uso. Será que o uso desse abecê na
capital baiana tem a mesma fonte dos usos do sertão nordestino? Difícil
saber... Certo é que, por aqui, não atribuímos a esse modo de pronunciar as
letras um valor apenas de alfabeto para aprender a ler e escrever, tipicamente
escolar, facilitador da alfabetização – como eram os nomes das letras sugeridos
por João de Deus – mas o tomamos como o alfabeto mesmo, usado no cotidiano, em
situações diversas em que se faz
necessário referir-se a letras.
Na complexidade do período anterior
ao final do século XIX, no entanto, até agora, não achei uma fonte fidedigna
para confirmar se no Nordeste já se “cantava” as letras fê, guê, ji, lê, mê,
nê, rê, si...a partir das Cartas de ABC, quando a soletração antiga ainda
vigorava no resto do país, ou se veio a partir da soletração moderna e as
influências dos livros, cartilhas e gramáticas mencionados, e porquê, no
Nordeste, se manteve como forma preferencial. Será que, posteriormente, com a
silabação, as recitações do ma-me-mi-mo-mu ou ra-re-ri-ro-ru, por exemplo, não
teriam influenciado ou reforçado a pronúncia do mê em vez do eme e
do rê em vez do erre? Igualmente difícil saber, como também o é
avaliar as chances dessa soletração ter sido um ajuste, uma invenção do povo
nordestino. Mas a pesquisa continua... Certo é que, a partir do momento em que
a soletração perdeu terreno para a silabação – seja no âmbito dos métodos
silábicos sintéticos, seja da palavração ou de outros métodos analíticos ou
mistos – ao lado das aprendizagens referentes à segmentação silábica, se falava
e se aprendia, no Nordeste, os nomes das letras com o princípio acrofônico mais
direto. Assim aprenderam gerações de nordestinos.
Talvez a origem do alfabeto nordestino seja uma dessas
lacunas na história da língua e da alfabetização difíceis de solucionar com
precisão, talvez, por outro lado, haja pistas por aí, em documentos históricos,
depoimentos pessoais de nordestinos mais velhos, nas notas de pesquisadores que
já desbravaram essas fontes – linguistas, pedagogos, estudiosos da história
cultural, historiadores da educação. Não sei...não encontrei mais do que
discuto aqui. Por ora.
Entretanto, não obstante as incertezas
sobre a origem e os usos do abecê, certo é que não podemos adotar uma postura
ingênua e naturalizada da questão. Talvez o seu uso não seja, afinal, porque no
sertão era muito frequente a presença de professoras leigas... Assumir isso é
como concordar que o outro alfabeto é que é o “letrado”... o “certo”, e o nosso,
desvio... Com uma história dessas – seja a história do alfabeto ou a história
da alfabetização – não podemos mais nos contentar com essa explicação do
alfabeto “pouco letrado”.
Lembrando, com Bilac, na epígrafe do
início do post, que na língua tem disso: “amo-te assim, desconhecida e
obscura”, mesmo com tantas lacunas. Mas vamos apostar no que é esquecido,
daquilo que ainda é lembrado... e dar espaço àquilo que é lembrado do que já
fora esquecido... A memória, mobilizada, engaja os sujeitos,
o espaço e a cultura, na configuração da identidade regional. Não vamos
deixar que o que restou seja esquecido e obscurecido de vez... Deixemos a
memória oral do abecê “cantado” no Nordeste brincar com a cultura escrita.
Deixem-nos ler o mundo com esses oito palavras-sons que se distinguem no nosso
abecê. Não vamos ficar nem na saudade e nostalgia, nem na lamentação da
“colonização” de nosso abecê, pelo abecê usado no outros cantos do Brasil,
muito menos proclamando-o em um “bairrismo” cultural. Vamos assumi-lo!
É isso, gente! O próximo argumento
trará uma discussão sobre os estudos contemporâneos que defendem que as
crianças usam os nomes das letras como pistas sonoras para grafar as letras em
uma palavra, reforçando, portanto, que a maioria dos nomes nordestinos, de fato, facilitam a alfabetização.
Até breve!
Lica
P.S. 1. As referências serão postadas no final de todos os posts.
P.S. 2. Agora, uma coisa é certa, não fosse o fato de
caçoarem ou renegarem esse modo cultural de falar as letras, certamente não
teríamos as pérolas de Nonói contador de causo e de Luiz Gonzaga e Zé Dantas.
Já vale por isso!
“Prefiro o velho ABC
Sem procurar inovar
Se adotou
pra si o ésse
Não vou também adotar
Ninguém vai me convencer
A mudar o que
aprendi
Hei de honrar até morrer
O saber que adquiri”.
(Nonói contador de
causo)
 Abílio
César Borges, o Barão de Macaúbas, é uma referência que pode ter igualmente contribuído
com o uso dos nomes das letras tal qual se usa no Nordeste, dessa vez a
contribuição de um brasileiro, baiano, influenciado por essas questões que
estavam no “ar do tempo”. Ele criou, na Bahia (1858-1870), o Ginásio Baiano,
que, segundo Souza (2012), pode ser considerado, nos padrões do século, uma
escola de excelência. Apesar de ser baiano, mas talvez tendo isso um peso, sua
Gramática e seu Primeiro livro de leitura, publicados em 1866, foram, segundo
Souza (2012), distribuídos, divulgados e adotados em escolas públicas e
particulares em várias regiões do Brasil, não apenas na Bahia, não apenas no
Nordeste, na segunda metade do século XIX. A autora, no entanto, enfatiza sua
utilização ampla na província da Bahia. Dentre as características do método
proposto nos livros de leitura de Borges, a autora ressalta que esse método –
que apresenta as letras uma a uma e organiza as lições a partir das sílabas –
enfatizava a pronúncia das consoantes, das sílabas, pois Borges defendia que a
articulação perfeita dos sons levaria a uma boa leitura. No seu “Novo primeiro
livro de leitura”, de 1888, Borges assim se posiciona, como ressalta Souza (2012, p. 657):
Abílio
César Borges, o Barão de Macaúbas, é uma referência que pode ter igualmente contribuído
com o uso dos nomes das letras tal qual se usa no Nordeste, dessa vez a
contribuição de um brasileiro, baiano, influenciado por essas questões que
estavam no “ar do tempo”. Ele criou, na Bahia (1858-1870), o Ginásio Baiano,
que, segundo Souza (2012), pode ser considerado, nos padrões do século, uma
escola de excelência. Apesar de ser baiano, mas talvez tendo isso um peso, sua
Gramática e seu Primeiro livro de leitura, publicados em 1866, foram, segundo
Souza (2012), distribuídos, divulgados e adotados em escolas públicas e
particulares em várias regiões do Brasil, não apenas na Bahia, não apenas no
Nordeste, na segunda metade do século XIX. A autora, no entanto, enfatiza sua
utilização ampla na província da Bahia. Dentre as características do método
proposto nos livros de leitura de Borges, a autora ressalta que esse método –
que apresenta as letras uma a uma e organiza as lições a partir das sílabas –
enfatizava a pronúncia das consoantes, das sílabas, pois Borges defendia que a
articulação perfeita dos sons levaria a uma boa leitura. No seu “Novo primeiro
livro de leitura”, de 1888, Borges assim se posiciona, como ressalta Souza (2012, p. 657):